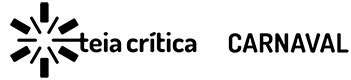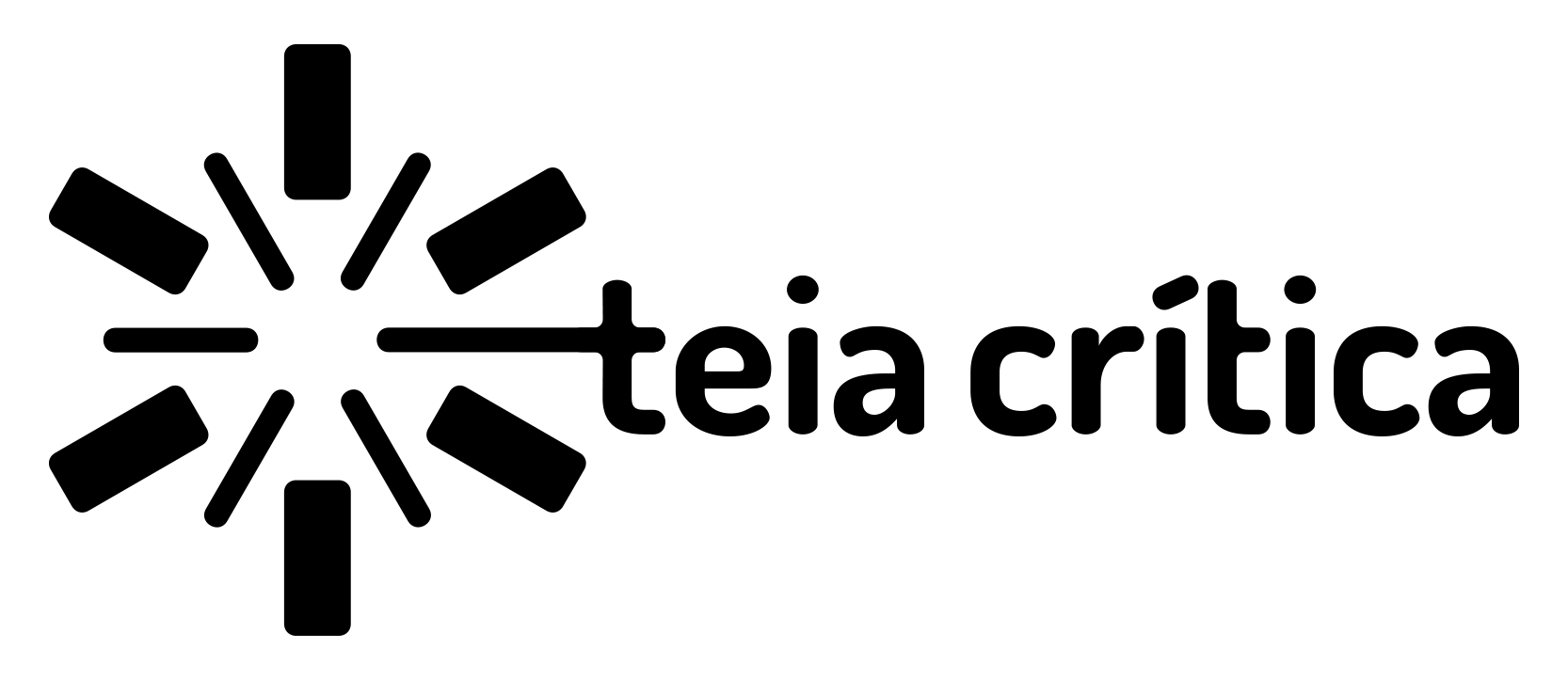“Empretecer o pensamento é ouvir a voz da Beija-Flor”, uma das melhores propostas de enredo do ano, gerou um samba com muitas qualidades, que, por sua vez, deu fundamentos para um excelente trabalho da bateria de Mestre Rodney. O vigor da voz de Neguinho, espelho para a garra com que os componentes de Nilópolis desfilam, também foi visto mais uma vez, mostrando o quanto a Beija-Flor tem assentado um forte trabalho comunitário no pré-carnaval.
A ideia de “empretecer o pensamento”, abraçada por filósofos, escritores, lideres religiosos e artistas negros de várias linguagens, evidencia o quanto, antes do desfile, o enredo proposto pela própria escola, desenvolvido por Alexandre Louzada e assessorado por André Rodrigues (atual carnavalesco da Acadêmicos do Sossego na Série Ouro), teve aderência da comunidade descendente de variadas nações africanas, um grupo majoritário no Brasil e fundamental no samba, que merece ainda mais representatividade, visibilidade e reconhecimento nos desfiles das escolas.

A Beija-Flor brilhou na teoria, além de ter sido muito eficaz, também, na irradiação de suas ideias entre os formadores de opinião na grande imprensa e na chamada mídia especializada de carnaval. Havia um clima de favoritismo evidente. Mas uma coisa é o texto, e o da escola foi apoiado por um time de pensadores de talento insuspeito. A outra, fundamental em obras de arte que tiram partido da visualidade e da narrativa, é a transformação da teoria em imagens e, no caso específico de um desfile de carnaval, em um encadeamento discursivo coerente durante o trajeto na Sapucaí. Nesses pontos, a apresentação da Beija-Flor foi extremamente lacunar em múltiplos aspectos.
O começo de meu argumento está no fim – e ao mesmo tempo na estrutura do desfile. O enredo que fala em “ouvir a voz da Beija-Flor” gerou o samba que afirma: “Ergui o meu castelo/ Nos pilares de Cabana”. Além da beleza da letra em si – fazer um castelo a partir de uma cabana, criar uma dinastia e declarar a nobreza da população da Baixada -, há nesse trecho uma menção ao compositor Silvestre Davi Cabana (leia texto publicado sobre ele na Teia Crítica, clicando aqui).
A presença de alguém que é “pilar” do enredo já parecia discreta na passagem da escola pela avenida. Mas… Difícil foi perceber que a imagem de Cabana exibida não correspondia, de fato, a Cabana. No tripé que cita o derrubamento de estátuas de personalidades escravocratas e racistas, o tecido sublimado que mostrava vigas-mestras da escola como monumentos (Neguinho da Beija-Flor, João 30 e Cabana), trazia um retrato de “Cabana” que na verdade é de Bira Quininho (Ubirajara Brás Augusto, outro compositor da escola que criou também canções ufanistas durante o período da ditadura militar). Quando se digita “Cabana, compositor, Beija-Flor” nos sites de busca, e nossa equipe da Teia Crítica fez isso, na pesquisa pré-carnaval, o retrato de Bira é o primeiro que aparece. Mas basta um clique, seguido de leitura, para que a confusão se desfaça, e a construção de um enredo precisa de bem mais do que um clique para alicerçar um “castelo”. Deslize gravíssimo.

Também é preciso assinalar, no campo da imagem, a escolha da direção plástica da escola apenas por uma dentre as Áfricas possíveis – a monumental, egípcia – para espelhar a ancestralidade negra. Destaco ainda, com maior gravidade, três outras situações.
A primeira é a gratuidade nas associações de um campo conceitual ao visual, como na sequência de alas que associam orixás a personalidades negras. Há, por exemplo, a fusão entre Aleijadinho e Xangô, Mestre Didi e Omolu, Irmãos Rebouças e Oxumaré. No livro abre-alas, o carnavalesco, seu interlocutor e os redadores da sinopse e descrições argumentam, sobre os irmãos engenheiros e Oxumaré, que a ligação “entre céus e terras” e a presença da cobra, elementos da mitologia do orixá, se conectariam à capacidade dos Rebouças em construir túneis e pontes. Sem dúvida uma associação poética, mas muito insuficiente no que diz respeito a uma comunicação com o público. Mesmo na fantasia de Mestre Didi, em que suas esculturas em palha foram facilmente reconhecidas em meio à representação de Omolu, ficou bem difícil entender a conexão entre o personagem artístico/histórico e o arquétipo do orixá a ele costurado. O trabalho com palha é o suficiente para ligar Didi a Omolu? Visualmente há algo que possa ser apreendido pelo público, além disso?
Uma questão bastante sensível: houve momentos em que o “empretecimento” proposto pelo enredo muitas vezes foi conduzido às avessas pela visualidade. No caso da fantasia “O Bruxo do Cosme Velho”, talvez o exemplo mais grave nessa seara, o mago negro que seria o escritor Machado de Assis foi construído com chapéu de ponta e uma alva barba estilizada em EVA, imagem que foi irradiada pela Europa branca e edulcorada pela massificação das histórias em quadrinho e filmes produzidos por Walt Disney (como no episódio de Mickey feiticeiro, em “Fantasia”, filme de 1940) e recebeu atualizações da cultura de massa em simpáticos personagens, como Harry Potter. Mas as origens da iconografia destes bruxos e bruxas, embora imprecisas, não têm nada de fofas, em nenhuma das versões possíveis.

A teoria mais corrente é a de que o chapéu pontiagudo tenha surgido do antissemitismo. Em 1215, o Quarto Concílio de Latrão emitiu um decreto obrigando todos os judeus da Europa ao uso de um gorro pontudo, o “Judenhat” (“chapéu de judeu”). Viria desse momento a terrível inspiração nazista para assinalar com símbolos como o triângulo rosa (associado a homens e mulheres LGBTs) as mangas dos uniformes de campos de concentração. A repetição da imagem do chapéu de ponta, em última instância uma iconografia da exclusão, perpetuou a ideia de que judeus estariam associados ao que se chamava, também preconceituosamente, de “magia negra” e de “adoração a Satanás”. E foi com a pecha de “bruxos” que muitos judeus e seus “primos” árabes, sobretudo os do Norte da África e da Península Ibérica, foram mandados para a fogueira durante a Inquisição.
Uma outra hipótese é a de que os chapéus bruxa se originariam do Centro ao Norte da Europa, na região onde hoje está o território da Alemanha, a partir da indumentária das “alewife”, mulheres que fabricavam cervejas caseiras, e que frequentemente também detinham conhecimentos ancestrais como erveiras, ministrando xaropes, chás e banhos de assento medicinais. O saber com as ervas, perfumes e unguentos estaria ligado ao enorme nariz com que as bruxas passaram a ser representadas – o olfato e a intuição dessas feiticeiras precisava ser recalcado pela cultura patriarcal do Cristo e das igrejas católica e protestante, que se enraizariam como forças no continente.
É muito triste que Machado de Assis, o maior artista brasileiro de todos os tempos, vítima de uma das mais notórias operações de embranquecimento de nossa história, tenha sido atravessado mais uma vez por um processo de imagem controverso.

Vivemos em um período histórico no qual as imagens são cada vez mais triviais, pela rapidez com que podemos produzi-las e compartilhá-las nas redes sociais. Mas estas imagens podem ser fortalecidas por essa repetição à exaustão, perpetuando-se como o chapéu de bruxo exportado pela Europa. Isso amplia a responsabilidade de uma escola grandiosa como a Beija-Flor e da equipe talentosa que produziu um enredo como “Empretecer o pensamento” no campo da construção iconográfica. O enredo só ganha materialidade como canto, dança, ritmo e imagem. Com a primazia do visual em nossos dias, é a imagem que vai guardar boa parte da história do que a escola desfilou.
Daqui a 50 anos, quando nossos descendentes tiverem acesso às imagens desse desfile, elas chegarão até eles sem a magnitude do samba, sem o apoio de legendas, sem o livro abre-alas entregue aos jurados. E uma dessas imagens será a que reproduzo parágrafos acima, para alinhavar meu argumento, embora um pouco constrangida de dar visibilidade e ênfase a ela. Em tempos de reescrita da História, quando os movimentos sociais reivindicam, com toda razão, o espaço que foi roubado da inteligência, da sensibilidade e da cultura negras, é muito complexo apresentar a imagem de homens e mulheres negros acorrentados, reproduzida no tecido da vela de um navio tumbeiro, ainda que estilizado. A associação com o martírio de africanos sequestrados e torturados pela escravidão é imediata, assim como certa acomodação dessa “realidade” em nossas retinas. E a escravidão ´não é algo que possamos acomodar.
Não faço aqui, friso, uma defesa do apagamento de registros históricos. Afirmo tão somente a certeza de que eles devem ser apresentados a partir de um contexto reconhecível, ainda que não racionalmente. A comunicação, apoiada numa subversão de sentido, deve se dar de forma imediata em qualquer tempo, em qualquer suporte. Não é o caso dessa imagem gerada pela Beija-Flor, tampouco das galés presentes no desfile da Portela e da Vila Isabel em 2022, igualmente lamentáveis.
Em seu livro “Memórias da plantação – Episódios de racismo cotidiano” (Cobogó), a grande pensadora Grada Kilomba escreve – de mãos dadas e também em certo estado de rinha com o psiquiatra e teórico Franz Fanon -, sobre a exaustiva representação da imagem da Escrava Anastácia amordaçada e silenciada. Grada questiona o quanto nós, brasileiros, tão ligados a essas imagens de flagelo, teríamos certo voyeurismo perverso ao insistir nessa imagem de mulher torturada. Em diálogo com a escrita dessa autora extraordinária, e sempre aprendendo com ela, penso que um dos papéis das artes plásticas, que incluem o carnaval, é atuar na imagem com o que chamo, a partir desse texto, de uma “infiltração guerrilheira”.
Não lutar para redimensionar, ficcionalizar e até mesmo ferir uma imagem que retrate a perversão e a desigualdade é, ainda que não intencionalmente, se posicionar como cúmplice. Isso pode acontecer tanto com imagens históricas, mantidas vivas como fósseis de outro tempo, caso a da Anastácia emudecida pela violência, quanto com registros contemporâneos. Um exemplo é a reincidência com que vemos fotografias e vídeos de abusos a corpos negros nas favelas e periferias do Rio sendo ganhando sobrevida pela “viralização” nas redes, isso é, pela compulsão pelo compartilhamento do absurdo.
Não exibir sem adulteração uma imagem que não deveria ser perpetuada é, indiretamente, concordar com a mensagem que ela exibe. A responsabilidade é de cada um e uma nesses tempos em que editamos nossos jornais diários nos aplicativos. Mais ainda dos artistas, que têm como ofício e vocação pensar a visualidade.
Em trabalho de 2019, o artista Yhuri Cruz, uma das personalidades negras que desfilaram na Beija-Flor neste 2022, repensou a imagem dessa mulher escravizada em “Monumento à voz da Anastácia” (2019), “santinho-manifesto” para ser distribuído nas exposições em museus e galerias que opera esse processo de “infiltração” a que me refiro. Yhuri apaga a mordaça de ferro de Anastácia. No verso, o texto “Oração a Anastácia Livre” (Saiba mais clicando aqui, no site do Projeto Afro).
Com “Empretecer o pensamento é ouvir a voz da Beija-Flor”, a escola de Nilópolis tinha uma ótima e promissora proposta. Mas cometeu o equívoco de não lembrar que, em um desfile de escolas de samba, maior manifestação das artes visuais brasileiras, as imagens também precisam falar.