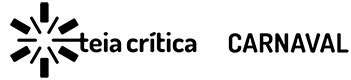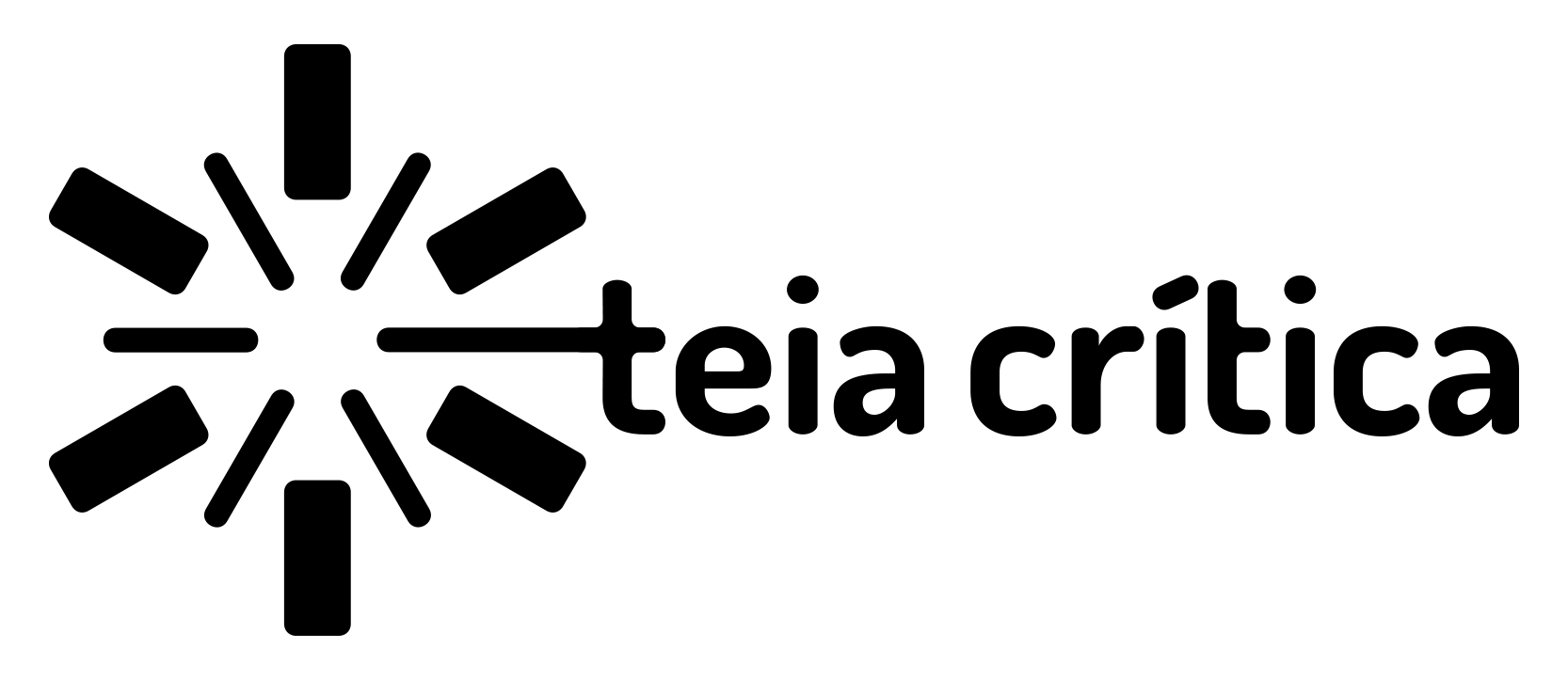Com o desenvolvimento da proposta “Waranã – A reexistência vermelha”, Jack Vasconcelos reafirma seu lugar dentre os mais inquietos criadores em atividade no carnaval carioca. O que chamo de “inquietude” não é exatamente desassossego ou angústia, e sim um desejo de movimento que impede os artistas de se acomodarem a determinados padrões e escritas já chancelados, buscando a construção de suas linguagens.
Quem entra em um barracão de escola de samba cuja concepção plástica é assinada por Jack não vai ver búzios de acetato reproduzidos à exaustão, nem um abuso de plumas que nada acrescentam à transformação de uma fantasia em imagem para guardar. Em um desfile criado por ele, não há a repetição de determinados desenhos e usos de material que formam uma espécie de repertório-padrão da Cidade do Samba, do qual desviam aqueles que têm coragem, recursos e parcerias para bancar a própria imaginação. Jack tem demonstrado o quanto está disposto a bancar a sua.
Criadores leais à própria inquietude sabem que o carnaval, ainda tratado majoritariamente somente como festa e evento turístico, é uma manifestação artística. Como tal, as concepções estéticas da folia têm condições e, mais do que isso, a responsabilidade de ultrapassar a efemeridade do desfile e gerar imagens e debates feitos para durar. Para que isso aconteça, é preciso buscar o singular.

Não falo aqui de resultados. Embora, nos últimos anos, o júri oficial tenha levado para o Desfile das Campeãs alguns projetos que primam pela ousadia plástica/temática – como o vice-campeonato de Jack com a Paraíso do Tuiuti, em 2018; o campeonato da Mangueira (Leandro Vieira), em 2019; e o vice-campeonato da Grande Rio (Bora e Haddad), em 2020 – em outros momentos, recentes ou históricos, as maiores notas recaíram sobre escolhas menos transgressoras, cujas características atendem somente ao “bonito”, ao “luxuoso”, ao “grandioso” ou ao “espetacular”. Em última instância, ao senso comum.
Jack se afasta com muita veemência deste gosto-padrão, e por isso nem sempre tem sido compreendido, comentado e estudado de forma mais profunda. Seu raciocínio acolhe a abstração e também o nonsense ou delírio, como já comentei em um texto anterior para a Revista Caju (leia clicando aqui). Um desfile concebido por ele pode ter mais ou menor vigor, mais ou menos êxito, mais ou menos afinidade com o perfil identitário da escola que o acolhe. Criadores têm direito a acertos e também a erros, afinal. Mas o que nunca faltará, numa concepção assinada por Jack, é a entrega de um vertiginoso projeto conceitual, cujas escolhas tecem o fio poético e imagético que irriga cada fantasia, cada alegoria, cada adereço.
Desfile como ilustrações de um livro infantil
Em “Waranã”, há um eixo dentro da concepção do artista que parece estruturar tudo o que diz respeito à estética que a Unidos da Tijuca vai apresentar na avenida, e ainda infiltrar outras vias importantes para a realização do desfile, caso do samba de enredo e as coreografias da comissão de frente e do casal de mestre-sala e porta-bandeira. Trata-se do olhar dos erês, de um convite para enxergar o mundo a partir de uma perspectiva de curumim. Jack se dispõe a contar a lenda do guaraná, cosmogonia do povo indígena mawé. Diz a narrativa que o “povo vermelho” se multiplicou a partir das sementes do guaraná, e estas, por sua vez, nasceram dos olhos de Cauê, criança indígena assassinada pela cobiça e inveja espalhadas por Yurupari. Esta entidade concentraria as forças do mal e estaria em eterna luta com Tupana, a energia do bem. Nessa guerra, o pequeno Cauê acaba morto. Enterrados como sementes, seus olhos se transformam no guaraná, planta conhecida por suas propriedades revigorantes.

Para criar o desfile da Tijuca – escola que fica num bairro marcado, ontem e hoje, pelo massacre e a exclusão dos indígenas -, Jack concebe alegorias e fantasias que pontuam cada trecho da lenda do guaraná como as ilustrações de um livro de fábulas infantis. É como se estivesse afirmando que, para resistirmos (e assim re-existirmos) precisássemos recuperar essa energia de curumim, abrindo mão dos filtros de ódio, tão marcantes na história de nossa nação, e reativados como uma força destruidora nos últimos anos. A mensagem é expressa: nenhuma criança nasce sabendo desprezar e hostilizar, ela precisa aprender isso com uma cultura intolerante. O carnavalesco, então, nos convida a uma re-existência a partir de uma visão de mundo enraizada nos olhos-sementes de Cauê, a criança protagonista de seu enredo. O trabalho artesanal de corte de tecidos como o feltro e de montagem das alegorias é deixado aparente, “esticando” a visão para um roçar em outro sentido: o tato. Isso gera um ruído interessante, que é um estímulo a uma demora maior na percepção de cada escultura ou plano.
Olhos-sementes de Cauê frutificam
Ao assistir ao ensaio técnico da escola e a suas apresentações na rua, não foi difícil perceber como esse “enredo erê” proposto por Jack foi capaz de se transformar em um espírito comum, e encarnar na coreografia desenvolvida por Sergio Lobato para a comissão de frente e no dueto entre a porta-bandeira Denadir Garcia e o mestre-sala Phelipe Lemos – ele realiza passos rituais indígenas durante o bailado e investe em saltos e pontas que aludem a animais da mata. A “eretização” da Tijuca está ainda no samba de enredo defendido pelas vozes plurais de Wantuir e Wictoria Tavares e na bateria de mestre Casagrande, que enfatiza chocalhos, recos-recos e instrumentos de madeira para, também no ritmo, realizar uma espécie de pajelança.
No que diz respeito aos aspectos plásticos, a paleta pensada por Jack reúne as cores do pavilhão do Borel, bipartidas entre o bem (amarelo e tons quentes) e o mal (azul e tons frios). Essa dupla de cores se une a outro eixo oposto e complementar, o verde e o vermelho do guaraná. Preto e branco modulam setores e complementam fantasias e alegorias, de modo a criar passagens óticas possíveis entre cores que a retina lê a um só tempo como extremamente atraentes – juntos, verde e vermelho reverberam a ponto de “dançar” no olho – e cansativas, desgastantes. Presentes na semente do guaraná, o duo alvinegro, além de amortecer os tons gritantes, reforça uma ideia de desenhos – o do carnavalesco e sobretudo aquele vindo de uma geometria ancestral, que assumiu inúmeras facetas em nossos povos originários. Nos tecidos que constituem as fantasias da Tijuca, esse legado geométrico foi reinterpretado por estampas criadas especialmente pelo ilustrador Antonio Vieira.

Estará ainda presente na avenida o destemor com que Jack desconstrói fantasias e alegorias, sem se preocupar em trabalhar com o maçante repertório clássico de chapéu-peitoral-esplendor, sem abrir mão de experimentar materiais. Nos carros, o delírio imaginativo que sempre marcou seu trabalho retorna como uma visão da floresta, um tanto xamânica, capaz de plasmar um tronco de árvore como pata de onça e outras metamorfoses surpreendentes. Na visão de nossos povos originários, o mundo era um lugar “onde as pedras podiam falar”, como diz o samba da Tijuca. Jack sempre investiu nessa possibilidade – a de enfatizar o fantástico que habita a nossa existência, e que jamais será literal. O ficcional e o imaginativo são praticamente o oposto da lógica lacradora e extremamente direta das redes sociais, e também do pensamento totalitário que elas imprimem.
Por fim, é preciso que se diga: apesar de toda a imaginação, este não é um enredo desconectado daquilo que nos cerca. Muito pelo contrário: é ela, a imaginação, que dá ao trabalho de Jack uma imensa voltagem não-linear e ficcional, o que é capaz de nos trazer de modo fortíssimo tanto a atual luta da Aldeia Maracanã quanto a memória das nações que a habitavam o território da Tijuca. Antes de sermos Brasil – nome que de alguma maneira nos vincula ao gesto violento e extrativista dos colonizadores – fomos o Matriarcado de Pindorama. Se hoje ainda reencenamos o extermínio desta nação feita de mães indígenas e seus curumins – tão presente na história de Cauê e do guaraná – o enredo de Jack abre a possibilidade de uma “reexistência” dos erês com a projeção de outras matas que possam ser deles na Tijuca, a partir do momento que vierem “brincar no Borel”.