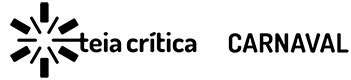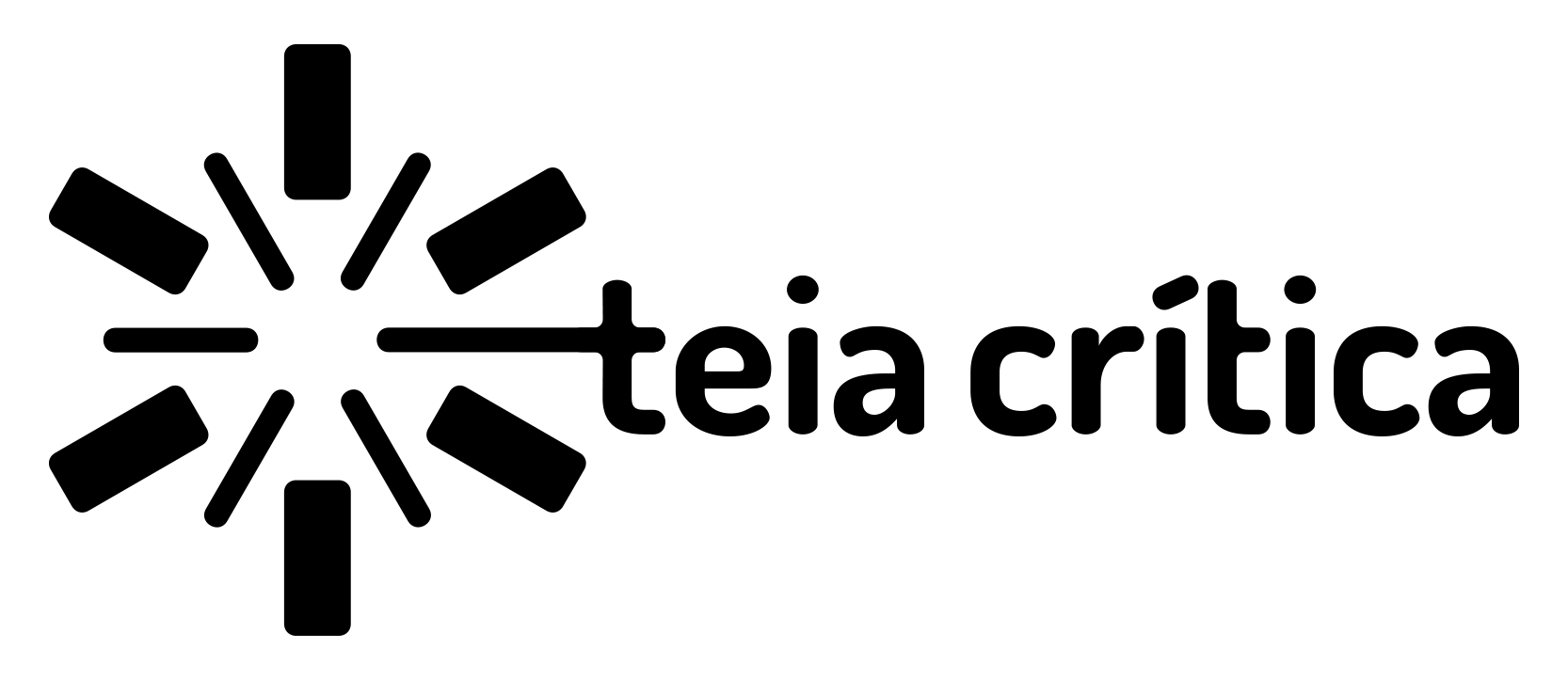Sobre o desfile da Grande Rio
E eu estava ali, nas arquibancadas do Setor 6, vendo a Acadêmicos do Grande Rio avançar na pista com sua comissão de frente. Estava ali, usando a pulseira branca de silicone distribuída na entrada, embora ignorasse sua finalidade. Estava ali, e ainda podia ouvir um zum-zum de latinhas de bebida sendo abertas, os comentários do grupo paulista dois degraus acima, gargalhadas, o grito da moça que, ansiosa, chamava por um certo Rafa.
Estava ali, naquele lugar, naquele instante.
Até que o lugar e o instante desapareceram.
E fui transformada em uma centelha da poeira cósmica que criou o mundo dos tupinambás; fui o brilho da floresta nas visões de um transe xamânico; fui vaga-lume nas margens da alegria [1], iluminando a escuridão da noite.
Já totalmente engolfada pela miração, ouvi ao longe a voz do cantor Evandro Malandro respondendo ao refrão do samba com um “Kiô” alongado (“Kiôôôôôô”), como se estivesse incorporando um caboclo; como se quisesse chamar os tupinambás e as outras falanges de Oxóssi para ritualizar junto com a escola. Melhor seria, talvez, escrever “junto com a gente”. Afinal, meu braço ainda brilhava, como os corpos dos bailarinos da comissão de frente criada por Beth e Hélio Bejani, e se somava a mais de 50 mil outros braços do público, transformados em estrelas pelos coreógrafos. Eles propuseram as pulseiras que fizeram da plateia o manto celeste, uma ideia que foi abraçada e expandida pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora. (Abraçar e expandir têm sido, aliás, as características que fazem desta dupla de artistas uma grande ponta de lança da experimentação na narrativa e na plasticidade dos desfiles [2]. E apenas a radicalidade experimental nos permitirá seguir afirmando o carnaval como uma encruzilhada de muitas artes contemporâneas).
Enredar: forma nasce da narrativa
Abraçando e expandindo – a equipe, a literatura do enredo – os dois coordenadores artísticos do barracão da Grande Rio criaram seu desfile mais destemido (coragem é o que a vida quer da gente, afinal). Todo o primeiro setor foi mergulhado numa escuridão radical, fazendo do carro abre-alas uma massa propositalmente informe, que foi revelando as sete onças do céu de pedra originário a partir de uma alternância de luzes coloridas. Um carro-metamorfose. Um início de mundo em transformação, que enredou na plástica e na visualidade o pulsar da narrativa cosmogônica. Enredar parece ser a chave, e por isso soa bastante absurda (até anacrônica) a penalização, por parte dos jurados do quesito enredo, de uma das propostas mais robustas e coerentes apresentadas este ano [3].
Vem do enredo o motor que possibilitou que Bora e Haddad tenham ido muito além de um domínio técnico do uso da luz ou da cor. Sua ousadia não reside na escolha do preto para este segmento. Dois desfiles da Viradouro já haviam feito esta escolha: o marcante e também cosmogônico Trevas, luz: a explosão do universo, de Joãosinho Trinta, em 1997, e a proposta assinada por Marcus Ferreira e Tarcísio Zanon em 2022, que iniciou seu cortejo lembrando o luto do pós-pandemia (leia aqui e aqui dois textos da Teia Crítica a respeito do enredo). O que amplia o gesto dos carnavalescos da Grande Rio – nisso e em tudo o que propõem – é a insistência em só criar visualidade quando ela pode ser habitada pelo discurso.
Toda a plasticidade dos artistas nasce da narrativa e das escolhas de enredo. Nenhum de seus desfiles anteriores, nem mesmo o arrebatador e campeão Fala, Majeté (2022), sobre o orixá Exu, deixou isso tão marcado e evidente quanto o deste ano. A plástica não ilustra o enredo, ela o incorpora, é assombrada por ele. A literatura copula com a visualidade, e desta nasce uma linguagem híbrida, que herda do texto a capacidade de se constituir de ruídos (rugidos, em 2024) ou de silêncios (espreitas). O conjunto formado por comissão de frente, casal de mestre-sala e porta-bandeira, abre-alas, guardiões e demais fantasias do primeiro setor é exemplar nisso. A escuridão foi apresentada como uma vivência tanto do silêncio, anterior a tudo que existe, quanto da explosão que rompe o silêncio, proporcionando ao público uma visão sensorial (e compartilhada) do enredo.
As escolhas das formas (círculos, teias, espirais) demonstraram o enredo como algo sendo escrito – assim mesmo, no gerúndio, um presente que se estende e traz sobre os ombros o que já foi dito. É como se o início do cortejo convidasse a plateia para escrever o próprio desfile, demonstrando aquilo que a literatura, as artes visuais e qualquer linguagem artística são, em seu nascedouro: um caldo informe e escuro, no qual mergulhamos. Depois disso, nadamos devagar, iluminados por relâmpagos – lampejos que apontam caminhos e oferecem fios puxados de um novelo. Na avenida, a massa difusa guardada por morcegos, corujas e outros seres da noite, piscou sob as luzes estroboscópicas (rave ancestral) para nos oferecer trovoadas óticas com mandalas e órbitas enredando-se em tons fluorescentes. Os tais lampejos, que contribuíram para eletrificar e conectar aqueles e aquelas que antes deste desfile podiam apenas assistir.

Entrei em muitas bifurcações, volto ao ponto em que escrevia sobre o “junto com a gente”: neste início de apresentação, em que os coriscos de tons cítricos rasgavam o céu da Grande Rio, eu ainda era luz, e piscava pulso a pulso com a bateria que o jovem gigante Mestre Fafá se recusa a acelerar [4]. Na cadência dessa floresta foliônica [5], pude ser cabocla e Caxias-bicho-fera, já certa de que seria impossível abrir mão da primeira pessoa para seguir os rastros dessa obra. Ela se tornou marco histórico justamente por integrar o público, e assim transgredir e fissurar a linguagem. Com a pele lanhada pelas patas da onça, ela, a linguagem, vai poder adormecer até a preparação do próximo carnaval. Mas seu sono será ventilado por essas frestas epidérmicas – veias abertas -, e o corpo da linguagem seguirá em transformação.
Sim, a transformação já se deu. E seguirá ventando nas frestas, ocupando-as com outros ares. Há um antes e um depois da Grande Rio de 2024, e ainda vamos entender melhor o que aconteceu. Pela primeira vez, nos 40 anos da passarela, a plateia da Marquês de Sapucaí fez parte da passagem de uma escola de samba e, vestida de luz, contou uma parte muito relevante do enredo. Sim, enredo. As pulseiras da Grande Rio não foram gratuitas, espetáculo vazio [6]. O estupor de quem viveu-e-assistiu, que segue latejando em quem escreve, vem do fato de que público criou e foi criado, justamente como o Velho Onça, protagonista da comissão e figura central da cosmogonia retrançada pelo escritor Alberto Mussa em Meu destino é ser onça (Editora Record), trilha principal percorrida pelo enredo. O Velho Onça plasma o cosmos dos tupinambás e ao mesmo tempo é plasmado por ele, e também é personagem amalgamado ao narrador para apresentar os mundos que foram contados pelo desfile.

“No meu destino, a eternidade”. No torpor imediato do pós-desfile, fiz um post rápido em meu perfil pessoal no Instagram, em que recordava a entrevista de Guimarães Rosa concedida em 1965 ao crítico literário Günter Lorenz [7], tradutor do autor brasieiro para o alemão. “(…) Como escritor, devo me prestar contas de cada palavra e considerar cada palavra o tempo necessário até ela ser novamente vida. O idioma é a única porta para o infinito, mas infelizmente está oculto sob montanhas de cinzas” diz Rosa em determinado trecho (leia a íntegra aqui), para mais tarde afirmar que tinha com a língua um “relacionamento amoroso”. “A língua e eu somos um casal de amantes que juntos procriam apaixonadamente, mas a quem até hoje foi negada a bênção eclesiástica e científica. Entretanto, como sertanejo, a falta de tais formalidades não me preocupa. Minha amante é mais importante para mim”.
Bora e Haddad também sopraram a montanha de cinzas da linguagem, nos fizeram soprar com eles e assim aspiramos as partículas de imagens e histórias dessa fuligem, fomos tingidos por elas e roçamos passados e futuros. “Roçar” foi um verbo que abocanhei para enunciar a suspeita de que o desfile de 2024 coroa uma trajetória de dois criadores que, assim como Rosa, também se relacionam com a linguagem como amantes, como quem procria apaixonadamente, como quem tem um relacionamento amoroso com o próprio processo criativo e tudo aquilo que o alimenta.
“Onça meu parente” [8] – um dia eu li; agora, me leio.
+++ x +++
Outras pegadas deste desfile
O primeiro setor é apenas a síntese mais exuberante do que aconteceu na avenida, mas ousaria escrever que os artistas aprofundaram características muito importantes de seu vocabulário estético, apontando ainda para direções inéditas. Para que eu não espiche demais um texto já longo, anoto em tópicos que nos permitem vislumbrar um pouco além do que passou na Sapucaí.

CORPOS RECALCADOS – Desde o enredo sobre Arthur Bispo do Rosário na Acadêmicos do Cubango, em 2018, Bora e Haddad vêm tratando de corpos recalcados e adoecidos/feridos por um status dominante. Além de terem mergulhado na obra do artista do inconsciente, “rei que bordou o mundo”, pensaram a circulação dos ex-votos (aparições de cura para o corpo popular – usando a expressão “corpo popular” para uma coletividade), o legado da figura marginalizada de Joãozinho da Gomeia e desaguaram no desfile campeão de Exu, em 2022. A onça é, para as culturas dos povos originários da América Latina, o mesmo que Exu significa para os legados afro diaspóricos brasileiros. Ambos envolvem poder, capacidade de transmutação, mobilidade, antropofagia. Não por acaso, ambos foram associados ao diabo, primeiro pelos padres catequizadores, depois por um imaginário coletivo, alimentado pelo comando etnocêntrico. Exu e onça são espíritos que devoram, forças que movem e desestabilizam o conforto do opressor.
OUTRA BOCA QUE DEVORA – Assim como Exu, a onça é uma “boca que devora tudo”. Além de reiterar os signos da antropofagia, forma de agir e de pensar que também traduz a maneira como criam, a onça possibilitou para Bora e Haddad a formulação de um vocabulário visual muito próprio. Em Fala, Majeté a boca devoradora e o poder de transformação de Exu eram traduzidos plasticamente pelo acúmulo de trouxinhas de pano (a partir da catadora de lixo Estamira, a ideia da reciclagem de um passado refugado e descarado em potência de futuro), enovelados de fios, espelhos e espirais, muitas formas arredondadas e inúmeros elementos giratórios. Exu como transe e roda, como um eterno retorno heterogêneo. Já a onça é pontiaguda tanto na forma – dente, faca, fecha – quanto na cor (fluorescentes, verdes-vermelhos-amarelos contrastantes, um verde-jade cortando os tons de areia e palha). Morder e mastigar como os primeiros atos de transformação. Topo da cadeia alimentar (a onça come o homem, que só pode comer a onça se usar algo além da boca para matá-la), se a onça vive, toda a floresta vive com ela. Foi emocionante perceber, na segunda alegoria da Grande Rio, a boca de um jaguar como a entrada de uma caverna, marcada por pegadas e inscrições rupestres. A onça devoradora sobreposta ao lugar onde as imagens dos povos originários ficaram guardadas. Depois de mordidas e mastigadas, as imagens habitam esse museu visceral e movente. A caverna-estômago como um lugar de vir-a-ser, que parece aninhar as imagens de uma humanidade recém-nascida para que suas pegadas ganhem força e nos alcancem.
APARIÇÕES E MANTOS: Em 2018, O rei que bordou o mundo terminava com o manto de Bispo do Rosário pairando pela Sapucaí, em um desfile que não apresentou nenhuma alegoria ou detalhe de fantasia com retrato literal do homenageado. O manto traduzia uma ideia de aparição, de alumbramento e de assombro, que percorreria mais tarde os desfiles sobre Gomeia (com suas visões na infância, sua conexão com o além-mundo) e sobre Exu. Com a onça, Bora e Haddad fazem outro desfile espectral e, mais do que isso, encantado. Não por acaso, apenas no tripé dedicado à encantaria a onça apareceu de modo realista, com uma típica floresta ao fundo, emulando, na escala gigante para a Sapucaí, o estatuário presente nos gongás dos terreiros de umbanda. A alegoria, coroada pelo Caboclo Tupinambá, foi na avenida a representação deste altar, através da qual se entrevê outra dimensão. Uma imagem sacra, de qualquer credo, também é isso, um portal: limite de um território realista e verossímil para outro mundo, além. Nos demais segmentos do desfile, a onça se desdobrou em diversas aparições ficcionais e fantásticas, mostrando seu lastro como um poder ancestral que nos habita. Uma força que vem à tona através do imaginário da cultura popular. Como reforço a esta ideia de aparição, a presença do Manto Tupinambá. Assim como o Manto da apresentação de Bispo, ele sobrevoou a avenida na alegoria final do desfile, mas também ritualizou a mais importante das alas. Vestidas para o sagrado, as baianas da Grande Rio carregaram uma das mais impressionantes fantasias criadas por Bora e Haddad em sua trajetória, tanto pela mistura de materiais quando pelo imprevisível da forma (o triângulo vermelho nas costas). Na parte da frente, a polissemia através de materiais e formatos. Mulheres-pássaro, mulheres-manto; porque as baianas são mulheres-ninho, afinal.
‘ONÇA FEITA À MÃO’: Com o manto, as baianas vestiram importante característica da obra de Bora, Haddad e da rede de parcerias que eles coordenam – o grande apreço pelo “feito à mão”. Já escrevi sobre a noção de “bordado”, no trabalho da dupla (leia aqui); sobre conseguir transpor para o plano material um processo narrativo e conceitual que é gestado como uma trama, um tecido, com camadas que se sobrepõem e se acumulam. As penas vermelhas do manto e as outras, coloridas, das saias das baianas, coladas uma a uma, nos mostram ainda como o artesanal é capaz de produzir sensações a partir da sinestesia, já que traz à tona o tato, o lastro do corpo, que rompe a hegemonia da visão. O bordado pode ser um trançado, visto na imensa onça da comissão de frente, criada pelo vai-e-vém de fios azuis fluorescentes manejados por cerca de seis meses por uma equipe de estudantes da Escola de Belas Artes da UFRJ. O ir e vir da linha plástica, avançando para outro plano, mas retornando ao ponto onde já havia passado para sustentar o tecido, reforça o espírito barroco que é para mim a base de construção de Bora e Haddad. O barroco não como o clichê de volutas douradas e não como um estilo, mas como uma condição brasileira. Somos barrocos, a alegoria estrutura o gesto antropofágico que define a cultura brasileira e a assegura como uma resposta híbrida, cabocla, aquilombada e sertaneja à opressão colonial. Um dos maravilhamentos que o desfile deste ano me causou vem de uma radicalização que os artistas fazem desse barroquismo muito contemporâneo, e que já estava bem madura e evidente no desfile sobre Exu.

VESTIR O ENREDO: Para mim, o melhor trabalho de fantasia da equipe da Grande Rio, com um convite para que os componentes de fato virassem onças, anhangas e outras aparições do enredo. Componentes também devorados e prontos para devorar o espírito do enredo.
ANTROPOFAGIAS: O desfile da Grande Rio é coalhado de referências. Bora e Haddad se apropriam de imagens e atmosferas presentes nas obras de outros artistas, tanto contemporâneos quanto de outros períodos. O que chama a atenção é o modo como lidam com essas imagens, esgarçadas e recosturadas umas sobre as outras, também como um bordado ou caleidoscópio. Um lidar amoroso e nada violento, que ressignifica as imagens alheias sem roubá-las, nem eliminar seus rastros. No carro-abre alas, as mandalas e teias fluorescentes do recém-falecido artista indígena Jaider Esbell [9] apareceram como um dos alimentos para essa antropofagia. Outros artistas originários, como Glicéria Tupinambá (que desfilou como destaque) e Denilson Baniwa (fonte para a mutação de “Brasil terra indígena” em “Caxias terra indígena” no néon da última alegoria) são outras citações evidentes. É ainda digna de nota a forma franca e dedicada com que os artistas listam e esmiuçam as citações no livro abre-alas. Identificar as autorias é obrigatório, mas Bora e Haddad vão muito além disso, explicando para os jurados como fizeram a mescla, como digeriram e recombinaram elementos plásticos e narrativos. Demorar-se nestes outros criadores é reconhecer sua importância; é dizer para quem estiver lendo/ouvindo/vendo que, se um trabalho teve parcerias (na concepção, no diálogo, na citação), elas precisam estar na luz. A atitude da dupla foi contrastante e exemplar em um ano no qual houve pelo menos dois incidentes com citações. Estes episódios, ocorridos em outras agremiações, ocultaram tanto obras de artistas reconhecidos por um circuito dito contemporâneo (o carnaval também é arte contemporânea) quanto em obras de outros criadores dos desfiles. Um destes casos já pode ser encarado como um comportamento reincidente, o que é preocupante. E, mesmo que o gesto de ocultação não seja consciente ou voluntário, é preciso que seja absorvido em sua gravidade, com seu curso corrigido para o futuro. Quem não cita, não atribui e não descreve uma parceria – aconteça ela no barracão, numa exposição, num livro, numa imagem apropriada para alimentar uma nova obra ou mesmo numa frase dita ou escrita por outra pessoa – está empreendendo um gesto de apagamento. Quem apaga, violenta. E esta violência não difere das práticas hegemônicas, patriarcais e coloniais que o carnaval tem combatido.
PARA VIVER NO CARNAVAL: É emocionante a forma como Bora e Haddad fazem seus desfiles se curvarem à própria história do carnaval, celebrando-a. No enredo sobre ex-votos na Cubango, em 2019, a alegoria com o cenário de Hélio Eichbauer para O rei da vela se misturava a Glauco Rodrigues e outras referências para carnavalizar essa apoteose final. Fala, Majeté também terminava com Joãosinho Trinta e outros exus da avenida e de outras folias. Com a onça, os artistas celebraram o olhar pioneiro de Fernando Pinto e para Rosa Magalhães, que de múltiplas maneiras entenderam o felino como grande metáfora para um poder ancestral e marginalizado do Brasil. Além de estar presente no segmento Onças foliônicas, que prepara o desfecho do enredo, o carnaval já é apresentado no setor anterior, com a alegoria sobre a Pedra do Reino, que cita o desfile do Império Serrano em homenagem a Ariano Suassuna. O carnaval tratado como o banquete que fornece a energia que tudo move.

ETERNOS RETORNOS: Citei acima o manto tupinambá pairando na última alegoria de Nosso destino é ser onça, a exemplo do que ocorreu com o Manto da apresentação de Bispo do Rosário no desfile de Bora e Haddad sobre o artista. Outras referências a desfiles anteriores da dupla também estiveram presentes: além dos ex-votos na base da alegoria da Pedra do Reino – agradecimento votivo aos corpos desfilados antes -, o último carro trouxe, abaixo do Manto onde estava a destaque Rafa BQueer, um globo giratório. O mundo de Exu, que é também o mundo que a onça movimenta, corporificando sua presença.
TRANSMUTAÇÃO PARA O QUE AINDA VAMOS VIR-VER-VIVER: No fim e no começo, alegorias em estado de vir-a-ser. Se na última temos o já citado letreiro irrigado pela obra de Denilson Baniwa (Brasil/Caxias terra indígena), no abre-alas temos as sete onças do “céu de pedra” tupinambá mudando de cor aos olhos do público. Nos dois carros e também na fantasia esplêndida criada para a rainha de bateria Paolla Oliveira, mundos e existências em mutação, caldo fervente da criação. E a coragem de uma dupla que, com sua rede de parceiros, evidencia a arte como um processo. Arte como plataforma que experimenta, no discurso e na forma, o risco e a delícia de um estado de transformação.

+++ x +++
O texto terminou acima. Abaixo, os meus desvios. Eles são trilhas que apontam para os textos que poderia ter escrito ou que ainda posso escrever. Clareiras na mata, capoeiras.
+++ x +++
NOTAS:
[1] Aqui, uma referência ao conto Margens da alegria, de Guimarães Rosa, autor que assombra este enredo e também minha escrita e meu pensamento. Muito antes de o pensador Didi-Huberman usar as luzes bruxuleantes e melancólicas dos vaga-lumes como uma metáfora de resistência e de oposição à direção única e totalitária das “luzes de holofote”, Rosa fez dos vaga-lumes o fio para este conto sobre a perda da inocência e a reconquista de esperança. Leia Margens da alegria, publicado originalmente em 1962, em Primeiras estórias, clicando aqui.]
[2] A dupla faz parte do que tenho chamado de uma nova geração de “narradores” no carnaval (clique aqui para ler). Mesmo dentro deste grupo, Bora e Haddad se distanciam dos demais na radicalidade do experimental. O que chama ainda mais atenção é a prática experimental associada a um fazer coletivo, com o barracão da Grande Rio funcionando como uma teia colaborativa e de formação de novos criadores. Entre os assistentes dos artistas estão os integrantes que compuseram a Comissão de Carnaval que concebeu o desfile da Acadêmicos do Cubango na Intendente Magalhães (Bora e Haddad coordenaram uma equipe que contou ainda com as cenógrafas Jovanna Souza e Sophia Chueke, a figurinista Joana D’Arc Prosperi, a pesquisadora Thayssa Menezes, o cenográfico e figurinista Rafael Gonçalves e o historiador da arte Theo Neves). Ainda que se respeite as muitas diferenças de tempo e de contexto, o que se realiza no barracão da Grande Rio guarda muitas semelhanças com o trabalho realizado por Fernando Pamplona no Salgueiro das décadas de 1960 e 1970, com uma postura de criação em conjunto que ajudou a formar artistas como Maria Augusta, Rosa Magalhães, Lícia Lacerda, Renato Lage e Joãosinho Trinta.

[3] NOTAS E JUSTIFICATIVAS DO JÚRI – A Grande Rio perdeu 3 décimos em enredo, com três notas 9,9 e uma 9,7 (descartada). Para que se pudesse admitir o desconto em proposta tão vigorosa, ele precisaria vir acompanhado de justificativas plausíveis e específicas, além de uma coerência em relação à penalização de escolas com propostas bem menos estruturadas. Não foi o que ocorreu.
As justificativas dos jurados de enredo apontam para uma cartilha, conduzida pela organização da Liesa, bastante restrita e unidirecional no trato com a narrativa. As duas únicas escolas que obtiveram quatro notas 10 (todas muito acertadas, no meu entender) foram Portela e Vila Isabel, cujos enredos são, em certa medida, sagas. Têm princípio, meio e fim definidos. A Viradouro, campeã indiscutível do carnaval, plena de qualidades, perdeu 1 décimo (nota descartada) acusada de falta de clareza e, embora também dê interpretações bastante metafóricas para fantasias, alegorias e episódios em certos setores, tem, na primeira parte de sua narrativa, uma travessia atlântica em formato de odisseia ou saga, que facilita o encaixe que privilegia uma forma de narrar em detrimento de outras. Não há nenhum demérito em pontuar – e as três melhores escolas em notas foram realmente bem. Ocorre que alguns desfiles penalizados, em especial o da Grande Rio, também poderiam ter ido bem se houvesse um entendimento mais plural e contemporâneo do que é narrativa.
Chama muita atenção o fato de os jurados Artur Nunes Gomes e Marcelo Figueira terem penalizado a Grande Rio em 1 décimo e dado a nota máxima para o Salgueiro – um dos maiores desperdícios de enredo do ano, pela incapacidade de a equipe plástica gerar imagens a partir de um ótimo argumento e acurada pesquisa, estes a cargo de Igor Ricardo. A incongruência fica ainda maior quando comparamos o desfile do Salgueiro em sua plástica e narrativa com as imagens que o bom samba da agremiação tijucana sugere. Repetitiva e sem invenção, a narração visual não incorpora/interpreta quase nada do que foi imaginado pelos compositores e não consegue carnavalizar referências importantes, como a obra da artista Claudia Andujar. É discrepante que o Salgueiro não tenha sido penalizado pelos jurados e a Imperatriz Leopoldinense, sim. De fato a agremiação de Ramos oscilou muito em sua narração. Diferentemente da Grande Rio, que jamais desviou da onça e foi apenas mergulhando mais e mais fundo em sua escolha de enredo, dando-lhe novas camadas e variantes, a Imperatriz não se decidiu entre os ciganos, a questão da sorte/dos sonhos e aquele que pareceu ser seu tema predominante, o “prenúncio da sina” de um bicampeonato. Uma indefinição que, como no Salgueiro, se refletiu na sensação de repetição visual nas alegorias, que traduzem plasticamente as aberturas ou fechamentos de capítulos da história que está sendo desfilada. Mas é muito injusto que haja diferença de penalização entre Imperatriz e Salgueiro por estes dois jurados. Se há um entendimento – a meu ver, correto – de que a Imperatriz deveria perder 1 décimo em cada uma das cabines, o Salgueiro deveria perder também 1 décimo, pelo menos. Já penalizar a Grande Rio na igual medida da Imperatriz e mais fortemente que o Salgueiro…. Bem, ultrapassa a injustiça.
Ainda no que diz respeito à escola de Caxias, tanto os já citados jurados quanto os outros dois destacam a “falta de clareza”, o que me parece um desejo de domesticação à odisseia, além de um gesto conservador, que presume o não entendimento do público. O desfile sobre a onça não foi mais complexo e mais cheio de referências do que o campeão Exu por exemplo, e também foi subversivo. Será que poderíamos pensar, então, em um preconceito com a abordagem do legado e do símbolo de poder dos indígenas a partir dos desdobramentos de uma visão literária?
O jurado Johnny Soares afirma que o enredo de Bora e Haddad teria um “argumento complexo” e uma “narrativa caudalosa” (o que, para mim, seriam vultosas qualidades). Soares diz ainda que o desenvolvimento oscilaria em interpretações “ora lendárias, ora metafóricas, ora filosóficas” (outra qualidade, não?). Termina tirando 1 décimo, mas dando “parabéns à agremiação pelo uso da criatividade na iluminação”.
A jurada Carolina Vieira Thomaz deu à Grande Rio um 9,7 – a segunda pior nota do seu mapa, à frente apenas de Unidos da Tijuca, com 9,6, e atrás do caju da Mocidade, que teve 9,8. São dois enredos muito inferiores, tanto na proposta (argumento e redação subsequente), quanto no desenvolvimento plástico-narrativo, setor a setor. A jurada inicia sua justificativa dizendo confiar “na plena capacidade dos espectadores para compreender tramas profundas” e alegando falta de clareza. Ao argumentar em que pontos esta clareza esteve faltante, parece tentar conformar o desfile àquele que está em sua cabeça, sugerindo que os personagens Maíra e Sumé são “muito importantes” e deveriam vir em carros alegóricos ou apontando que há muitas alas com figurinos diferentes entre si (o que sempre foi uma prática de Bora e Haddad e, historicamente, de um sem-número de artistas no carnaval).
O anacronismo do júri da Liesa não reside apenas em enredo. No quesito fantasia, vemos uma tentativa de regrar a criação e condicioná-la a um tipo de execução que, desenvolvendo ou não uma linguagem artística singular, opta por não subverter demais a forma daquilo que seria uma “roupa” e seus elementos usuais (calça/saia, blusa, gola/costeiro, chapéu). Não me parece acaso que Grande Rio, Porto da Pedra, Portela e Mangueira, que investiram, cada qual a seu modo, em subversões da própria roupa, tenham sido penalizadas, em maior ou menor grau, com o mesmo tipo de justificativa.
Argumentos como “faltou harmonia” revelam ainda, e de forma gritante, a cristalização de um “bom gosto” que poderia ser lido como uma nostalgia do século XVIII, momento em que as noções de “belo”, “elegante” e “harmônico” ainda não haviam sido questionadas. Há três séculos, o “belo” era o norte e o Norte – o padrão europeu. Diversificamos. Multiplicamos. Mudamos. E o júri da Liesa precisa acompanhar a mudança.
É preciso dizer, ainda, e do lugar de uma crítica de arte contemporânea, que uma obra de arte NÃO tem como missão produzir beleza. A beleza – no largo e subjetivo espectro de interpretação da palavra – é apenas uma das ferramentas possíveis para o arrebatamento da arte. Frequentemente, o “belo” foi confundido com o “agradável” e o “conformado”, e usado como argumento e desejo dos conservadores. Grandes artistas da história do carnaval, como Joãosinho Trinta, Oswaldo Jardim e Fernando Pinto, subverteram o belo inúmeras vezes, e são ainda mais relevantes por causa disso. E é preciso entender que o “gosto” é uma construção cultural, que frequentemente está a serviço de uma hegemonia opressora – daí o “bom gosto” e o “mau gosto”, que buscam restringir os corpos, estéticas e obras de arte passíveis de despertar afetos.
Quando concluo este texto-dentro-do-texto voltando ao quesito enredo, aponto a “clareza” como um desejo correlato ao “bom gosto” ou à “harmonia”. Quem penaliza a densidade e as bifurcações narrativas como algo “pouco claro” manifesta o horror a tudo o que é “complexo” – profundo, polissêmico, ruidoso, caleidoscópico. Há aí um impulso castrador, que pretende condenar a criação a uma linearidade que, quando conduzida sem talento, pode levar à superficialidade e ao esvaziamento de potências. É preocupante um júri que não compreende as maiores características da arte – sua opacidade e sua não-literalidade. Não fossem estas distinções, não precisaríamos da arte para trazer o extraordinário para nossa rotina ordinária. Poderíamos então nos contentar com aquilo que é “claro”, cotidiano e reconhecível; aquilo que aprendemos a chamar de “real”.

[4] Fabrício Machado de Lima, o Mestre Fafá, maestro da bateria da Grande Rio, é “cria” do importante Mestre Odilon. Coordenei com Jocelino Pessoa o festival “Dobras da folia”, em que Fafá sobre como conduz o ritmo de seus instrumentistas de forma contrária a uma demanda cada vez mais crescente de aceleração (ouça aqui). Com coordenação de Mestre Vitinho e do jornalista Carlos Gil, as conversas da seção “Fala, Mestre” fazem parte da playlist geral de “Dobras” no Spotify.
[5] Faço a apropriação do termo de Bora e Haddad no segmento Onças foliônicas de seu enredo, que aponta para uma característica de seu trabalho – as formas e narrativas polifônicas. Ao sobrepor à bateria de Fafá, brinco também com as possibilidades sinfônicas.

[6] Em comparação ao uso da luz por outras escolas, a passagem da Grande Rio deixa evidente a diferença entre usar um recurso como maneirismo ou fazer deste recurso uma contribuição conceitual à narrativa e à plasticidade. Nenhuma escola foi tão fundo quanto a agremiação de Duque de Caxias e na maioria dos casos a luz foi apenas um recurso teatral (bem ou mal utilizado). Nenhuma proposta teve a radicalidade conceitual da equipe formada por Beth/Hélio Bejani e Bora/Haddad. Mas há outros trabalhos de grande inventividade que poderiam ser mencionados. O primeiro é o uso de luz e cor no projeto de Tarcísio Zanon para o primeiro segmento da Viradouro, que transmite o enredo e uma visão da serpente (ou sob o efeito de seu veneno) aos espectadores (leia aqui sobre a proposta da Viradouro, na seção “Por dentro do enredo”). A segunda é a comissão de frente concebida por Paulo Pinna para a Mocidade. A ideia de levar uma componente para a arquibancada é muito boa e inédita, e os problemas conceituais de Carmen Miranda não vêm do coreógrafo; residem na origem de um enredo que por vezes faz aproximações e sobreposições apressadas com o tema do caju.
[7] A leitura do diálogo entre Guimarães Rosa e Günter Lorenz merece um tempo cuidadoso (acesse a íntegra aqui), que permita a observação dos momentos de encontro e desencontro entre os dois participantes. Em alguns trechos, Rosa demonstra grande desconforto com a opinião e a visão do crítico e chega a ofendê-lo, a tentar diminuí-lo com ironia; em outros, louva seu senso de observação, sua sensibilidade e sua sagacidade. Em nenhum momento a conversa é interrompida. Lorenz a conduz com maestria e resistência, mas isso não seria o bastante. Rosa, mesmo quando arredio, insiste em estar ali, em ouvir o outro e, mais do que isso, em poder se ouvir através do outro.
É lindo perceber que Lorenz tenha mantido toda a alternância de farpas e afetos na edição final. Também é lindo entender que um gigante como Rosa não ficou ensimesmado (essa palavra não é incrível?). Um criador grandioso não pode se afogar em si mesmo. Além de valorizar o diálogo com a crítica e chegar a prolongá-lo, com questões sobre as questões de Lorenz, o escritor se mantém disponível para a troca e exalta para a posteridade as qualidades de seu interlocutor.
Esta autora e a plataforma Caju, com este seu projeto Teia Crítica, conduzem suas atuações tendo como prioridade a reconstrução do lugar da crítica, tanto a que existe de forma autônoma, caso deste texto, quanto aquela que nasce do trabalho curatorial. Um meio de arte sem crítica responsável é estéril, e se dá em golfadas rasas, sem escuta, sem análise e sem desdobramentos e documentação para o futuro.
O lugar do qual falo e escrevo não é gratificante e confortável o tempo todo, porque a crítica e a curadoria nem sempre são valorizadas como algo que vai além do propositivo e analítico, sendo também uma atividade criativa e autoral. Isso se amplia quando, como ocorre com a Caju e seus autores, a crítica é exercida de modo colaborativo e independente, sem o respaldo e os holofotes de uma instituição.
É preciso enfatizar que nós, os críticos e curadores, não estamos apenas a serviço da obra e da voz do outro, embora elas sejam o nosso interesse e o nosso ponto de partida. Também estamos construindo a nossa própria obra enquanto vemos, escutamos, entendemos a obra em diálogo com nosso pensamento. Somos autores, autoras. E, se investimos nosso poder de criação em mergulhos na obra alheia, esperamos em troca um reconhecimento perceptível e respeitoso dos esforços de nossa abordagem, seja ela um apontamento elogioso ou uma reflexão indagativa.
O importante é que aqui, nesta Teia Crítica, temos colecionado alegrias e aprofundado laços: chegamos ao terceiro ano de um site que analisa os desfiles do carnaval como obras de arte, envolvendo uma pluralidade de autores e visões. Agradecemos e celebramos.

[8] “Onça meu parente” é uma frase dita pelo narrador-protagonista de Meu tio o Iauaretê, conto de Guimarães Rosa (de novo ele, fazer o quê?). O texto faz parte de Estas estórias (1962). O narrador é um ex-caçador, que desiste de matar as onças porque se apaixona por elas. Este “onceiro” regenerado conta sua história para um forasteiro (Uma aparição? Uma memória? A partir do desfile da Grande Rio, reli este conto de outras maneiras), prestes a devorar ou ser devorado, talvez prestes a devorar a si mesmo. Leia aqui esta maravilha.
[9] A obra de Jaider Esbell é uma das possíveis aparições do transe xamânico no desfile, que também é apresentado pela “poeira das estrelas” do xapiri na comissão de frente de Beth e Hélio Bejani. O texto de Pedro Ernesto Freias Lima para a Teia Crítica mostra a interpretação do desfile Hutukara, do Salgueiro, para o xapiri. Leia aqui.
Foto do cabeçalho
Desfile das Campeãs – David Normando/ Rio Carnaval